
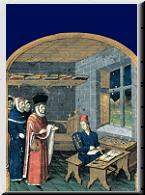 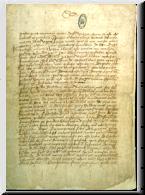  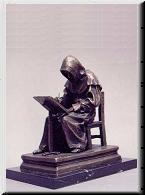  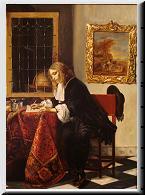  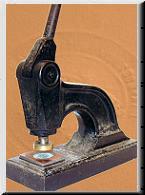 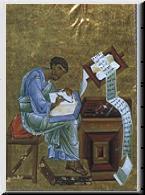  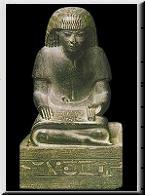 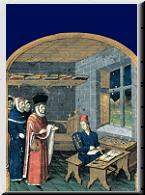 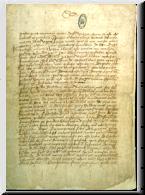  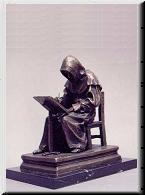  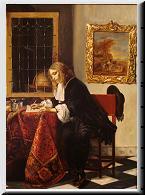  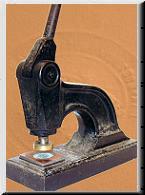 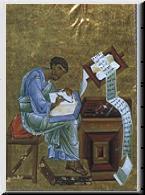  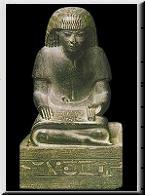 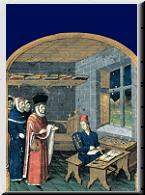 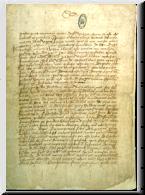  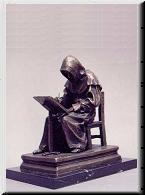  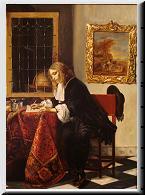  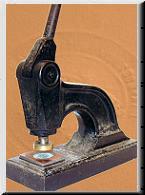 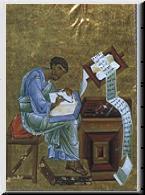  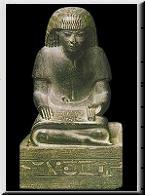 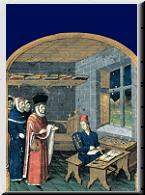 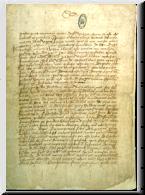  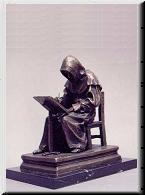  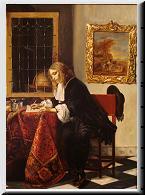  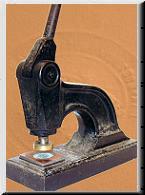 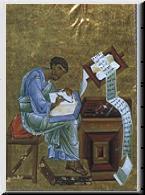  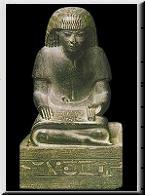 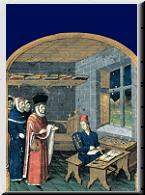 |
(João Theodoro da Silva)*
(Edição nº 002, de 15 de outubro de 2010.)
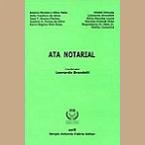
O colega Leonardo Brandelli havia combinado comigo de que ele faria uma exposição teórica e ficaria a meu encargo uma exposição mais prática sobre o tema. Mas, em face da ausência dele, vou fazer algumas considerações preliminares, fixando certos pontos importantes para a prática da ata notarial numa visão de seriedade e de valorização da instituição notarial. O grande receio é de que se os atos notariais forem banalizados estaremos perdendo a última oportunidade de fazer com que a instituição notarial floresça e tenha condições de prestar grandes contribuições à ordem jurídica do país. É com essa preocupação que quero deixar reafirmadas algumas posições que se acrescerão a esses preciosos posicionamentos do Dr. Narciso Orlandi Neto. Minha preocupação inicial diz respeito à nomenclatura, para chegarmos a uma linguagem jurídica com um grau de qualidade técnica que nos permita entender melhor a ata notarial. A nomenclatura técnico-jurídica é de suma importância para que os conceitos sejam bem assimilados. Na linguagem coloquial usamos palavras que, às vezes, são apresentadas em sinonímia e têm as suas diferenciações. Nesse ponto quero chegar à questão que o Dr. Narciso tomou, onde ele dá à escritura pública a qualidade de gênero e à ata a qualidade de espécie. Primeiro, vejamos as palavras ato, auto e ata. Todas as três são de uma mesma origem latina actu(m), proveniente do verbo agere, que significa, primordialmente, agir. Sendo assim, ato é o resultado de uma ação. Auto, a mesma palavra ato, no português antigo adquiria uma variante gráfica característica da língua portuguesa, acto. Em Portugal ainda se conserva essa expressão. Auto é a mesma coisa que acto. No ponto de vista etimológico não há nada a distinguir, mas as palavras adquirem aplicações de ordem prática, estabelecendo distinções. Assim, ficaram os “autos judiciais” e/ou os “autos de aprovação do testamento cerrado”, que o Dr. Narciso muito bem disse se tratar de uma ata. Ato, auto e ata, são a mesma coisa. Ata, na sua formação, originária do plural da palavra acto, ensejou a formação da palavra atas. O português absorveu a palavra ata para o plural latim, dando uma conotação de pluralidade a isso, por isso, hoje dizemos “livro de atas”. No dicionário Aurélio encontramos a expressão “o relator examinou as atas do processo”. Na linguagem de antigo escrevente judicial, falávamos em “autos do processo”, mas é possível que se utilize em várias partes do Brasil a primeira expressão. Ata, que já tinha na sua formação um sentido de pluralidade, adquiriu em português o seu próprio. Se existe ato, auto e ata vamos partir para a expressão “ato jurídico”. E ato jurídico está dentro do contexto de fato jurídico, ato jurídico e negócio jurídico. O fato jurídico é aquele que tem repercussão no mundo do direito. Esses fatos jurídicos vão se formar em dois pólos: os atos jurídicos de natureza e os fatos jurídicos humanos. Atos jurídicos naturais que independem da vontade humana e são provocados por fenômenos. Atos jurídicos humanos são aqueles provocados pelo ser humano e que comportam dois aspectos: atos jurídicos e atos ilícitos. Em ambos os casos, com repercussão no mundo do direito. Ato jurídico tem um sentido amplo em relação à sua especialização, que é uma manifestação da vontade humana, mas nem sempre decorre de uma declaração de vontade. E aí temos os exemplos de atos jurídicos não negociáveis como, por exemplo, o abandono do imóvel. É um ato de vontade, mas não decorre de uma declaração, ninguém vai comparecer perante um tabelião de notas e pedir que se lavre uma escritura pública ou uma ata notarial em que a pessoa vai dizer que está abandonando o imóvel. É um ato jurídico em sentido amplo, porque contém uma manifestação de vontade que não é exatamente uma declaração de vontade. Já o ato jurídico em sentido estrito, contém declaração de vontade. Sendo assim, é chamado de ato jurídico negociável, ou, resumidamente, negócio jurídico. O artigo 81 do Código Civil de 1916 definia ato jurídico em sentido estrito. No atual Código Civil o legislador abandona a referência ato jurídico e fica só com a referência negócio jurídico. Mas sabemos que o direito não é tão fácil de ser equacionado, do ponto de vista terminológico. Nunca se consegue abarcar na linguagem todas as expressões que são necessárias à sua manifestação. O que acontece é que o legislador atual fala de negócio jurídico, mas não consegue deixar de lado que existem atos jurídicos que não são negócios jurídicos. No artigo 185 o legislador diz que “se aplicam as regras dos negócios jurídicos aos atos jurídicos não negociais...” De qualquer maneira, no esforço de generalizar para particularizar, partimos do fato jurídico, da sua amplitude. Isolamos nele o ato jurídico negocial, e é no negócio jurídico que vamos examinar o que se refere à atividade do profissional do direito, do tabelião de notas, que tem o encargo de dar forma legal ou autenticidade à declaração vontade das partes. A escritura pública é a manifestação maior da atividade do notário. Nessa passagem de designação de ato jurídico para negócio jurídico há dois comentários merecem ser lembrados. Os dois estão no dicionário jurídico de Leib Soibelman. Num comentário, com base nas lições de Darcy Bessone de Oliveira Andrade, grande jurista falecido há poucos anos, o autor do dicionário diz que “o negócio jurídico é uma criação dos juristas alemães, com grande aceitação pelos italianos, se originou da observação de que existem atos jurídicos que não se externam sob a forma de uma declaração de vontade, embora produzam modificações no mundo externo, tais como a ocupação, a tradição, a gestão de negócios alheios, etc., atos lícitos e voluntários, cujos efeitos decorrem da lei, independente de saber se o indivíduo os previu ou desejou”. E, comparando, distingue: “Já os negócios jurídicos decorrem sempre de uma previsão e uma intenção resultantes de uma declaração de vontade.” Mas num outro volume do dicionário, em que ele trata da exata expressão “ato jurídico não negociável”, Leib Soibelman, agora baseado nas lições de Orlando Gomes, faz o seguinte e curioso prognóstico: “A doutrina do negócio jurídico constitui um labirinto, um quebra-cabeça criado pelos alemães, no qual os italianos estão se envolvendo a fundo. Quando a confusão aumentar, os italianos vão acabar abandonando o problema, com o mesmo argumento de que é preciso voltar à realidade latina, como já aconteceu com os tantos problemas...” Essa lição não foi acatada pelo legislador da atual versão do Código Civil. De qualquer maneira, diz ele: “Para que se situe o negócio jurídico com relação à amplitude do conceito e tomando como exemplo o contrato, tem-se que o conceito de fato jurídico é mais amplo do que o de ato jurídico, o qual é mais amplo do que o de negócio jurídico, o qual é mais amplo do que o de contrato”. Quando o tabelião de notas pratica ato por escrito em seu livro de notas, ato esse que interessa tratar em matéria de escritura pública, trata-se de um negócio jurídico. E se a escritura pública tem por conteúdo o negócio jurídico, o conteúdo da ata notarial é a narrativa do fato. Essa distinção vem da doutrina dos países que consolidaram a concepção de ata notarial. A doutrina espanhola, e a dos países latino-americanos influenciados pela legislação espanhola, insiste muito nessa distinção com relação a conteúdo. Ou seja, escritura pública tem por conteúdo o negócio jurídico, ata notarial tem por conteúdo a narrativa do fato. Falamos de ato, auto e ata, falamos de ato jurídico, negócio jurídico e fato jurídico. Outra distinção importante do ato é documento, instrumento, instrumento público e instrumentos públicos notariais. A palavra documento é oriunda do verbo latim docere, cuja pronúncia seria doceo, tem o sentido de ensinar. Instrumento, que vem do verbo latim instruere, tem o sentido de instruir, ou seja, está próxima do sentido daquela (ensinar/instruir). Há documentos das mais diversas formas e o instrumento seria exemplo dessa distinção. O documento escrito pode ser público ou particular. O instrumento público é aquele emitido por agente do poder público. Pelo menos na linguagem do direito português-brasileiro, instrumento público significa muito mais que escritura pública, pois são todos os documentos emitidos por agentes públicos. Essa enumeração leva a várias categorias de instrumentos públicos que podemos resumir em instrumentos públicos judiciais e instrumentos públicos extrajudiciais. Os extrajudiciais são administrativos, notariais e registrais. À primeira vista, essa classificação abarcaria todos os instrumentos públicos. O tabelião de notas só lida com instrumentos públicos, e só lidando com instrumentos públicos estará redigindo, lavrando ou criando instrumentos públicos notariais. Instrumentos públicos notariais podem ser classificados assim: instrumentos públicos notariais ou atos notariais, fazendo uma distinção inicial de instrumentos notariais principais, instrumentos notariais secundários e instrumentos notariais complementares. Essa é uma preocupação de se distinguir alguma coisa para se ter uma visão de conjunto com uma certa hierarquia. Dentro do gênero instrumentos notariais principais estariam a escritura pública e a ata notarial. Apresento a ata notarial e a escritura como espécies do gênero instrumento público notarial. Estou procurando abrir uma visão mais ampla a respeito da gama de atividades do tabelião. Mas, insistindo em algo que o Dr. Narciso colocou, ou seja, a escritura pública abrange testamento e procuração, ao contrário da interpretação literária que a lei dá quando mistura gênero e espécie. Quando coloco escritura pública e ata notarial no patamar de instrumentos notariais principais, não estou igualando, mas, sim, hierarquizando sem a preocupação de falhar. E nessa hierarquia o testamento e a escritura pública estão na posição máxima da atuação do tabelião de notas, dado seu formalismo rigoroso e a solenidade especial. A ata notarial geralmente não chega no patamar da escritura pública por ser narrativa de fato, sendo que a escritura pública tem por conteúdo o negócio jurídico. Não se pode dizer que a ata notarial é menos importante que a aprovação de testamento público, tanto que é revestida de igual ou maior solenidade que o testamento público. Essa hierarquização não tem a pretensão de igualar. Quando falo de atos ou instrumentos notariais secundários refiro-me à autenticação de documento avulso mediante reconhecimento de firma, o que chamo de pública forma (conhecida como autenticação de cópia reprográfica). Instrumento notarial secundário é tão banalizado que é uma das maiores manifestações de desprestígio para a atividade notarial. O Dr. Narciso Orlandi Neto falava da utilização da ata notarial para reconhecimento de firma presencial. O reconhecimento de firma presencial é uma ata notarial. Em Minas Gerais não se faz ata desse comparecimento e isso me preocupa, pois o meu instrumento é lançado no próprio documento, ou seja, é avulso. Por isso, tenho o cuidado de renovar o cartão de assinatura com a data em que está sendo feito o reconhecimento de firma presencial, mesmo que a pessoa já tenha cartão de assinatura arquivado na minha serventia, ainda que recente. Quando o doutor Narciso Orlandi fala da importância do reconhecimento de firma presencial, acrescento que esse é o melhor e deveria ser o único reconhecimento de firma a ser praticado, porque o reconhecimento de firma por semelhança não possui valor de autenticidade e é o que mais se pratica no país. O mesmo acontece com a banalização da autenticação de cópia. Com 30 anos de serventia preservo pelo menos um cuidado: não fazer autenticação de cópias que não tenham sido feitas na minha serventia. E isso me faz ser um tabelião de menor preferência, pois o que se quer é carimbação de pacotes que já chegam prontos para adquirirem aparência de autenticidade. Por último, instrumentos notariais complementares, que são traslado e certidão. São complementares porque são expedidos em função de um instrumento notarial principal. Ainda com relação à importância da ata notarial, no meu trabalho faço referência a uma ata notarial do princípio do século XVI, a conquista do México por Hernán Cortés. Essa referência vem da obra Derecho notarial, de Enrique Gimenez-Arnau. Ele conta a chegada ao México do conquistador Hernán Cortés com seu escrivão da coroa castelhana don Diego de Godoy. Invadido o território mexicano, ele pede ao seu escrivão que lavre a ata da conquista e faça a notificação aos índios de que eles passam a ser os súditos da coroa castelhana. Dr. Amaro Moraes traz, em seu artigo, um testemunho sobre Cristovão Colombo que, em 1492, quando chegou ao Novo Mundo, acompanhado pelo tabelião do Consulado dos Mares, Rodrigo Escobedo, perguntou aos índios, que não entendiam a linguagem espanhola, se eles se opunham aos espoliantes atos dos europeus. Sepulcral silêncio. Assim sendo, em decorrência da quietude indígena, Escobedo lavrou uma ata que atribuía o domínio e a posse das terras aos reis católicos do reino de Castilha, por inexistência de oposição dos naturais da terra. Walter Ceneviva, em comentário ao artigo 7o da Lei de Notários e Registradores, se refere à ata notarial como um relato que é feito sobre fatos que o tabelião presencia. Antônio Albergaria Pereira também fez extensas considerações sobre a ata notarial e insistiu no aspecto de que a ata notarial tem narrativa de fato, em contraste com a escritura pública, que tem por conteúdo negócio jurídico. Ele cita dois exemplos interessantes e muito conhecidos. Num primeiro momento, ele diz que um notário pode ser chamado para registrar em suas notas o fato de que um raio atingiu determinado prédio e tornou imprestável o seu uso pelo locatário, Com base nesse registro notarial o locatário irá postular em juízo a rescisão do contrato de locação. Segundo exemplo: um notário poderá ser solicitado a comparecer a uma assembléia condominial em que os assuntos a serem decididos podem comprometer os direitos do condômino que solicitou o comparecimento. O objetivo é que esse notário registre em suas notas a ocorrência desses fatos. Esses fatos são atos jurídicos voluntários. Esses dois exemplos são muito ilustrativos a respeito da conceituação da ata notarial como narrativa objetiva de fatos. A Serjus, entidade que congrega os notários e registradores de Minas Gerais, editou, em 1999, a publicação Serventias judiciais e extrajudiciais na qual foram feitos comentários sobre a ata notarial, quais sejam: a idéia de ata notarial como um relato de um fato que o tabelião vê, ouve ou percebe e que leva à noção de um documento qualificado pela fé pública, via de regra, feito em livro de notas, com a finalidade de autenticar fatos jurídicos. “Compete ao tabelião autenticar fatos jurídicos” é uma expressão que está na lei dos notários e registradores. Talvez pudesse ser substituído por “reconhecer a autenticidade do fato”. Nessa época eu comentei que a ata notarial seria um sucedâneo de muitos atos notariais que figuravam sob a designação de escritura declaratória e que a maioria poderia ter a conformação definida como ata notarial. Antônio Abergaria Pereira divergiu um pouco disso, fazendo a distinção entre ata notarial e escritura declaratória. Eu não faço essa distinção por uma razão muito simples: não existe escritura que não seja declaratória, ou, não existe escritura pública que não contenha declaração de vontade. Desse modo, escritura declaratória não especifica nada. Vou me reportar a um conceito de ata notarial escrito por um autor que está citado no texto escrito por José Flávio Bueno Fischer e Karin Regina Rick Rosa, na página 210 da obra Ata notarial, coordenada por Leonardo Brandelli e editada pelo Irib e Sergio Antonio Fabris Editor.
O conceito não tem maior valoração científica porque é um conceito que se faz por exclusão, mas, de qualquer maneira, facilita a atividade no exercício prático, pois com a escritura pública estamos muito habituados. Sabemos que a emancipação, criação de fundação, pacto nupcial, perfilhação, etc., se fazem por escritura pública. A ata notarial seria o que não cabe dentro desse contexto. Mas esse conceito traz uma perigosa conseqüência, a banalização. Temos de levar em consideração que a classificação se complica para fazer as distinções. Conforme observação feita pelo doutor Narciso, com a entrada em vigor da lei 8.935/94 já estavam excluídos da atuação do tabelião de notas três tipos de ata notarial graças à especialização da atividade. No Brasil, temos o tabelião de protesto que possui a específica função de lavrar a ata notarial de protesto. O tabelião de notas brasileiro não pode fazer algo que os notários espanhóis e latino-americanos fazem com tanta freqüência, que são as atas notariais de protestos. O tabelião de notas brasileiro não pode fazer ata notarial de inserção do documento particular em suas notas. O que seria isso? O que os espanhóis e os latino-americanos chamam de ata notarial de protocolização. O protocolo é onde se guardam as escrituras, um documento particular para ter ingresso no protocolo, o que pode ser feito por ata notarial. No Brasil isso não pode ser feito porque existe, há muitas décadas, uma oficialização chamada Ofício de Registro Civil e Ofício de Registro de Títulos e Documentos, onde tem ingresso o documento particular para adquirir existência perene e segurança. Essa atividade ficou fora do tabelionato de notas ao surgir na lei a competência expressa. O tabelião de notas brasileiro não pode fazer a ata notarial que os espanhóis latino-americanos fazem, a chamada “ata notarial de requerimento, intimação e notificação”. No direito registral brasileiro o protesto, notificação e interpelação são feitos, também, pelo oficial de registro de títulos e documentos. A lei traz essa competência como novidade, mas não temos possibilidade de exercitar esses atos à maneira do notariado latino. Ata notarial a requerimento de pessoa interessada é a regra. O tabelião age, em regra, a requerimento, e, por exceção, o tabelião faz ata de ofício. Aí surge uma velha polêmica em que eu me coloco de um lado, o Antônio Albergaria Pereira de outro, e Leonardo Brandelli de outro, os dois últimos não aceitando a ata de ofício. Ata de ofício, segundo o direito notarial espanhol, é aquela que o notário realiza em função da necessidade do exercício de sua função, para fazer constar um obstáculo ao exercício da sua função. Ou, às vezes, para fazer constar do seu protocolo que está havendo impedimento ou que se tenta dificultar que ele exercite a sua atividade. Essa ata notarial existe no direito espanhol desde séculos. Outra ata notarial de ofício é a chamada ata notarial de subsanação, que serve para o tabelião corrigir, sanar defeitos materiais na escritura pública, o que não interfere na declaração de vontade das partes. O direito espanhol até diz que serve também para o notário fazer constar algo que ele esqueceu de colocar na escritura. Por exemplo, o notário, ao redigir, esqueceu de tornar expresso que ele reconhece a identidade das partes. O regulamento notarial espanhol permite que ele saneie essa escritura por ata notarial, fazendo constar o fato. A posição de Leonardo Brandelli, por exemplo, é de não aceitar a ata notarial de subsanação, mas mostrar que lá no Rio Grande do Sul existe ato retificatório, nas normas gerais da Corregedoria-Geral de Justiça. Ou seja, ele só diverge de mim na nomenclatura, ele não aceita a ata notarial, mas aceita ato retificatório que, para mim, é ata notarial. Antônio Albergaria Pereira, ao combater a ata notarial de subsanação, aceita o termo de retificação. E conta que, antes dessas questões surgirem na prática, ele fez um termo de retificação por uma tremenda enrascada em que um escrevente o colocou, lavrando uma escritura defeituosa do ponto de vista material. O tabelião, às voltas com a necessidade de sacramentar o ato de seu escrevente, constatando nele a existência de erros materiais evidentes, lavrou um termo de retificação. É o que eu chamo de ata notarial. Ou seja, não estamos divergindo em nada, apenas no que diz respeito à nomenclatura. Narciso Orlandi Neto e Walter Ceneviva fizeram menção, em seus textos publicados no livro Ata notarial, sobre a ata notarial de comparecimento. Um outro tipo de ata é a de presença, que difere da ata de comparecimento. O que distingue uma da outra? Na ata de comparecimento a parte interessada comparece à serventia para a realização do negócio jurídico, em face da ausência de outrem. Já a ata de presença se refere à presença do tabelião. É aquele caso em que o tabelião se desloca da serventia para se fazer presente onde seja requerido. Uma ata notarial muito comum na minha experiência prática é a ata notarial de declaração, que diferencio em dois níveis: declaração de interesse pessoal e declaração testemunhal. Tem acontecido com muita freqüência, principalmente a partir da necessidade de prova em função de plano de saúde, previdência privada, etc. É uma ata que adquiriu um caráter de simplicidade, fazendo-se constar, por exemplo, apenas a declaração da pessoa de que vive em união estável. Mas a ata notarial de declaração pessoal e a ata notarial de declaração testemunhal, para fins de prova inicial ou para fins de sustentar uma medida judicial, quase nunca se apresenta como o relato de um fato que o tabelião vai constatar. Quase sempre se apresenta para mim como solicitação de um advogado, já com um texto escrito, que pede para que eu lance no livro e traga as pessoas para ouvir a leitura e assinar. Eu acho que a ata notarial de declaração pessoal ou de declaração testemunhal pode trazer uma grande contribuição na prova testemunhal, mas não pode ser feita como algumas escrituras de declaração antigas, ou seja, não pode ser a simples cópia de um texto trazido antecipadamente para leitura. Isso tira todo o caráter de seriedade que ela tem. Ata notarial de notoriedade é aquela em que o tabelião de notas obtém a comprovação e fixa em relato a existência de um fato notório. Nela, o tabelião emite uma valoração. Não podemos deixar de lembrar que o próprio auto de aprovação de testamento cerrado, tal como ele é feito no direito brasileiro, é uma ata notarial que vai além de um simples relato, pois o tabelião diz que aprova o testamento. Ou seja, ele emite um juízo de valor. Na ata notarial de notoriedade o tabelião constata a notoriedade do fato, por isso trata-se de uma ata notarial da maior importância e que pode ser a grande expressão da atividade notarial no sentido de servir como matéria de prova processual. A ata de notoriedade se presta a comprovar, entre outros inúmeros exemplos: a) a identidade de pessoas que, por descuido, engano ou erro, aparecem com nomes diferentes nos registros públicos e nos mais diversos documentos. Vejam um caso interessantíssimo: uma magistrada, casada com um advogado, filha de um casal que, em vida, fez doação de todos os seus bens. Depois da morte do casal, essa magistrada teve a necessidade de regularizar o bem doado há muitos anos para promover o registro da escritura pública de doação em relação a um lote de terreno que estava tentando vender. Ela se viu diante do seguinte problema: o oficial do registro de imóveis de Guarapari solicitou que se apresentasse a certidão de casamento do casal de doadores para fazer a averbação, tendo em vista que a aquisição era muito antiga, era do tempo em que o doador era solteiro. Ou seja, apresentada a certidão verificou-se que a esposa do doador tinha na certidão de casamento o mesmo nome de solteira, sendo que na vida conjugal ela quase sempre usou o nome de casada. O nome acrescentado do patronímico do marido. Estava criado o caso. A cidadã solteira, Guiomar Alves da Cruz, casou-se em 1926 e manteve o mesmo nome. Quando nasceu a primeira filha dela, em 1927, constou no registro de nascimento da filha o nome da mãe, Guiomar Alves da Cruz. Quando nasceu a segunda filha, em 1929, constou o nome da mãe como Guiomar Alves de Almeida, retirando o Cruz. Daí para frente, todos os demais registros e documentos dela figuraram com o nome Guiomar Alves de Almeida. Quando ela faleceu, ao se fazer o registro do óbito, certamente se apresentou a certidão de casamento, de novo aparecendo o nome de solteira. Como resolver um problema desses, tendo o casal falecido? Todos os outros bens estão com a situação quase resolvida, menos esse. Como fazer para uma escritura dessas, que produziu quase todos os efeitos e só ficou pendente por causa disso? Estudei o caso e lavrei uma ata notarial de notoriedade em que, fazendo o requerimento e demonstrando documentalmente esses fatos e variações, me pediu que constatasse a notoriedade de que Guiomar Alves da Cruz é a mesma que Guiomar Alves de Almeida. Examinei toda a documentação, acrescentei o meu conhecimento pessoal, já que conheci esse casal pessoalmente e fiz uma ata. Em 1926, a legislação brasileira não exigia que se acrescesse ou que se introduzisse o patronímico do marido ao nome da esposa. A primeira lei dos registros públicos, de 1924, era omissa, o Código Civil, omisso. Fui à lei de Registro civil de pessoas naturais, que existia e vigorava desde 1888, quando se separou a igreja do Estado. Constatei que em 1928, no regulamento dos registros públicos surgiu a exigência de que o patronímico do marido fosse acrescido ao nome da mulher. O casamento ocorreu em 1926, o primeiro filho nasceu em 1927 e o segundo em 1929, aí a mãe já surge com o nome acrescido do marido. Toda a documentação dela demonstra que se trata de uma só família, o que me deixou absolutamente tranqüilo para constatar que é notório que Guiomar Alves da Cruz era a mesma Guiomar Alves de Almeida, casada com fulano de tal, conforme registro de casamento.” O oficial de registro de imóveis de Guarapari não achou suficiente essa notoriedade e pediu que houvesse a intervenção judicial. O caso voltou a mim e eu disse à magistrada que fosse à vara competente e que se ela quisesse poderia usar a minha ata notarial pelo menos como um início de prova, já que pode ser considerada como início de prova. Ainda não sei resultado dessa providência, mas essa ata notarial, para efeitos de fazer esse tipo de prova, pode ajudar a resolver intrincados problemas com segurança. Outra hipótese, o estado civil de solteiro de uma pessoa. Alguém está negociando com uma pessoa solteira e quer prova disso. Deveríamos ter essa prova pelo sistema registrário brasileiro, mas infelizmente o nosso registro civil não tem essa qualidade. Então, não há como provar que uma pessoa está no estado civil de solteiro. Prova-se que uma pessoa é casada, separada judicialmente, divorciada, mas solteira não. Em 1980, houve um incêndio em Ouro Preto, Minas Gerais, e todos os registros tiveram que ser reconstituídos para a abertura de matrícula. Essa reconstituição é feita judicialmente, apresentando-se ao juiz uma cópia da certidão, ou mesmo uma cópia que demonstre ter havido esse registro antes do incêndio, com a afirmação das partes de que aquele registro realmente existia e o juiz autoriza que o oficial faça a reconstituição. Talvez uma ata notarial resolvesse o problema. Meus votos são para que a ata notarial não seja só um valor em si, mas seja um pretexto e um momento para nos despertar, para colocar a instituição notarial do Brasil no seu lugar merecido, até em benefício da ordem jurídica do país. (*) João Theodoro da Silva é Tabelião de Notas em Belo Horizonte, Minas Gerais. |